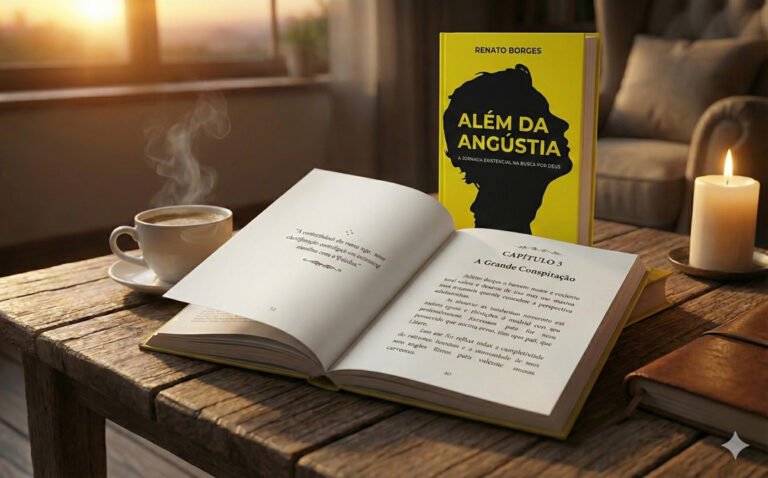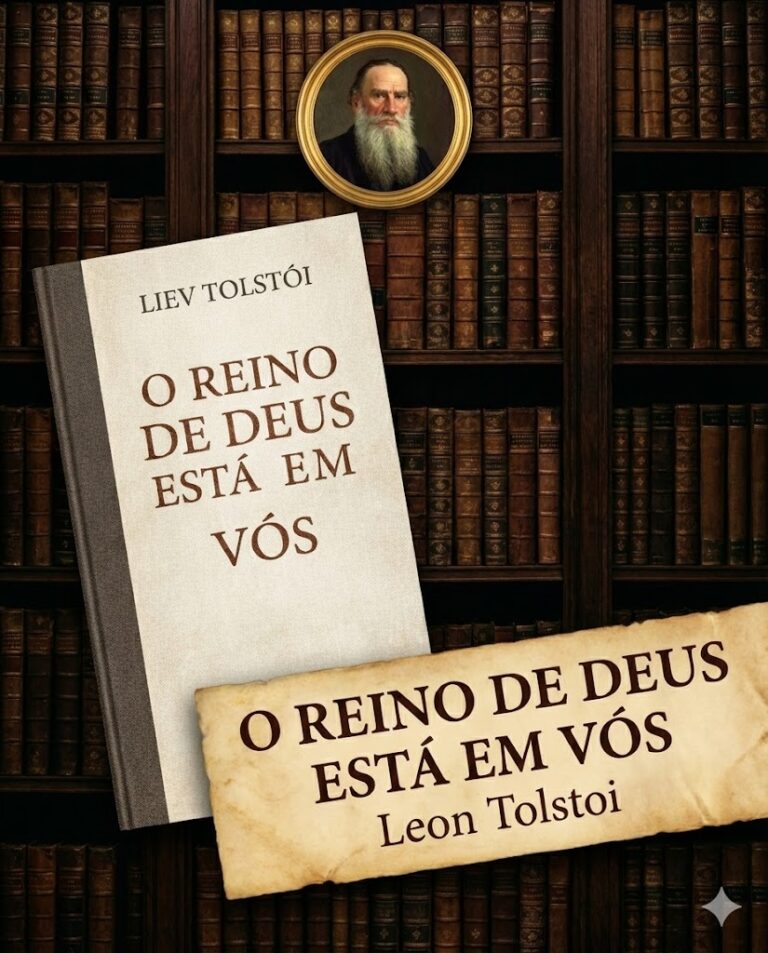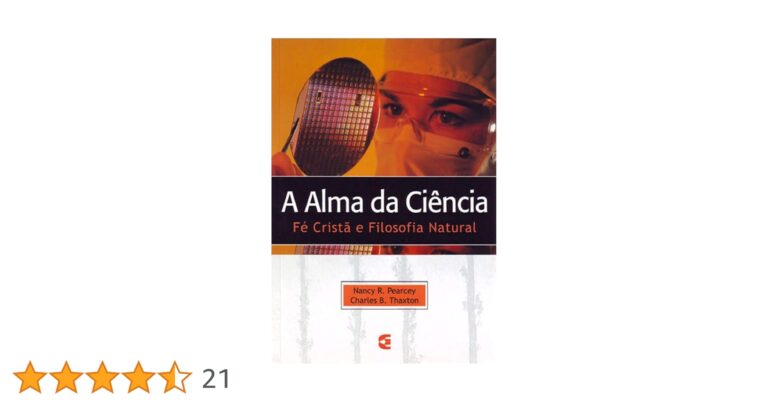Nossa sociedade parece ter sido aplacada com a maldição das Moiras, que trouxeram o anúncio de que aquilo que é justo se torna mal, e o mal passa a ser o justo. Este presságio sombrio ecoa o feitiço entoado pelas bruxas na tragédia Macbeth, de Shakespeare: “O justo é sujo, e o sujo é justo: paire através da névoa e do ar imundo” (Ato 1, Cena 1).
Este sentimento de inversão total dos valores permeia o espírito de nosso tempo, alimentando a sensação de que a fronteira entre a sanidade e o delírio se tornou perigosamente fluida.
Quando o absurdo se torna regra, quando a performance subjetiva exige o status de verdade inquestionável, não estamos apenas diante de excentricidades, mas à beira de um abismo onde, como nos alertou Hannah Arendt, o mal se torna banal.
O Delírio como Estrutura Social
Para Sigmund Freud, o delírio não é um mero erro de julgamento, mas uma reconstrução da realidade. É uma crença falsa, mantida com convicção inabalável, que serve como um remendo para uma lacuna insuportável na relação do sujeito com o mundo exterior.
O delírio funciona como um “remendo” para suprir uma “fenda” ou dano na percepção do mundo, especialmente na psicose, onde essa tentativa de recuperação é mais proeminente. O que testemunhamos hoje é a transposição deste mecanismo individual para a esfera coletiva.
A sociedade, em larga medida, parece operar sob a égide de um pacto delirante, no qual narrativas subjetivas são não apenas toleradas, mas validadas e impostas como realidade objetiva, independentemente de qualquer evidência empírica em contrário.
Esta validação coletiva do delírio é muito próximo, em termos de diagnóstico do que é apresentado por Jean Baudrillard e seu conceito de simulacro. Para Baudrillard, nossa era pós-moderna é caracterizada pela substituição do real por signos e símbolos.
O simulacro é uma cópia sem original, uma representação que não mais se refere a uma realidade concreta, mas a outras representações, criando o que ele denomina de “hiper-realidade”. É um mundo de modelos, códigos e performances onde a distinção entre o real e a simulação colapsa.
É precisamente neste ponto que a teoria do relativismo performático, notadamente associada a Judith Butler, se torna o motor desta hiper-realidade. A ideia de que a identidade é uma construção social, um efeito de discursos e performances repetidas, desancora o “eu” de qualquer fundamento ontológico.
A identidade deixa de ser algo a ser descoberto e passa a ser algo a ser incessantemente performado. Neste cenário, o “eu” se torna um simulacro: uma performance que não aponta para uma verdade interior, mas apenas para outras performances, validada por um sistema que se retroalimenta.
A Sociedade do Cansaço e o Zumbi Filosófico
Esta exigência de performance contínua, no entanto, tem um custo existencial devastador, como bem diagnosticou o filósofo Byung-Chul Han em sua obra Sociedade do Cansaço. Han argumenta que a sociedade disciplinar, baseada na coerção externa, foi substituída por uma sociedade do desempenho, na qual o indivíduo se torna seu próprio explorador.
O imperativo não é mais “não deves”, mas “deves poder”. A pressão para otimizar, para performar, para ser um “empreendedor de si mesmo”, leva a um estado de exaustão e depressão. A performance que deveria libertar, adoece.
Este indivíduo exausto, imerso na hiper-realidade do simulacro, se aproxima perigosamente da figura do zumbi filosófico(Robert Kirk, 1974). Este é um ser hipotético indistinguível de um humano consciente em seu comportamento, mas que carece de experiência subjetiva, de uma vida interior genuína. Ele executa perfeitamente o roteiro, performa com excelência, mas por dentro é oco.
A sociedade do desempenho, ao valorizar a performance acima da essência, corre o risco de produzir uma legião de zumbis filosóficos: indivíduos funcionalmente adaptados à hiper-realidade, mas existencialmente vazios, alienados de si mesmos.
Charlie Kirk: O Mal-Estar, a Normalização do Desvio e a Banalidade do Mal
Aqui, o círculo se fecha. A validação do delírio (Freud) cria uma hiper-realidade de simulacros (Baudrillard), na qual o indivíduo é compelido a uma performance autoexploratória (Han, Butler), resultando em um esvaziamento existencial. Este é o cerne do mal-estar contemporâneo: um cansaço que brota de uma liberdade sem limites que se volta contra si mesma. É neste ponto que devemos introduzir um conceito crucial da sociologia: a Normalização do desvio.
Originalmente cunhado pela socióloga Diane Vaughan, o termo descreve um processo gradual pelo qual um comportamento ou padrão inicialmente inaceitável (um desvio) se torna progressivamente tolerado e, por fim, considerado normal.
Na psicologia social, vemos como a pressão do grupo e a repetição podem levar os indivíduos a aceitar como normais situações que inicialmente lhes causariam alarme. O que começa como uma violência — uma transgressão violenta contra uma norma de segurança, um princípio ético ou a própria estrutura da realidade — perde sua característica chocante através da repetição e da racionalização.
Quando o desejo de poder (Nietzsche – Vontade de Poder) e o relativismo se encontram, o conceito de justiça anunciado pelas Moiras é verbalizado por aqueles que estão no poder.
Joseph Stalin, na antiga União Soviética, declarou: “Mostre-me o homem, e eu lhe mostrarei o crime”. O crime anunciado por Stalin não se fundamenta na lei ou na moralidade, mas em seu próprio desejo e vontade de manter-se no poder.
Aquilo que é justo deixa de ter sentido para dar lugar ao que é sujo (Shakespeare, 2007). Este princípio foi aplicado de forma sistemática por Joseph Goebbels no regime nazista.
Sua propaganda trabalhou para retratar o povo judeu como um desvio perigoso. Através da repetição incansável, a violência da desumanização foi normalizada, tornando o genocídio não apenas palatável, mas, para muitos, um dever. O “mal se torna normatizado, normalizado, banal. Hannah Arendt.
Tragicamente, vimos este mesmo modelo atuar em nosso próprio tempo, quando a retórica de ódio normalizou a violência política a tal ponto que ativistas puderam não apenas desejar, mas executar e comemorar o assassinato de Charlie Kirk em 10 de setembro de 2025.

Ao normalizar o desvio da verdade, a sociedade perde a capacidade de reconhecer o desvio moral. O mal deixa de ser uma transgressão radical e se torna o simples ato de seguir o fluxo, de obedecer às regras da hiper-realidade, por mais destrutivas que sejam.
Reflexão
Diante deste quadro sombrio, o Evangelho surge não como mais uma performance, mas como um chamado radical ao Real. Jesus Cristo não nos convida a construir nossa própria verdade, mas a nos rendermos à Verdade que nos criou. A liberdade cristã não é a ausência de limites, mas a adesão voluntária a uma ordem divina que confere sentido e propósito à existência.
A cura para o mal-estar não está em uma performance mais bem-sucedida do “eu”, mas na negação deste “eu” que conspira contra o Criador em uma obsessão idólatra narcísica compussiva.
Jesus nos convida a encontrar a verdadeira identidade Naquele que é “o mesmo ontem, hoje e para sempre”, o filósofo existecialista Kierkegaard chamou essa centrega de “salto de fé”.
Referências
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: Um Relato sobre a Banalidade do Mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio D’Água, 1991.
BORGES, Renato. Além da Angústia: A Jornada Existencial na busca por Deus. 2. ed. Goiânia, 2024.
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
FREUD, Sigmund. O Mal-estar na Civilização. In: __. Edição Standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. XXI.
HAN, Byung-Chul. Sociedade do Cansaço. Petrópolis: Vozes, 2015.
KIERKEGAARD, Soren. Desespero Humano (Doença até a morte). Trad. Adolfo Casais Monteiro. P. 187 a 279 da coleção Os Pensadores. Rio de. Janeiro: Abril Cultural, 1988.
SHAKESPEARE, William. Macbeth. Tradução de Beatriz Viégas-Faria. Porto Alegre: L&PM, 2007.
VAUGHAN, Diane. The Challenger Launch Decision: Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA. Chicago: University of Chicago Press, 1996.